Os Gárgulas

Hoje meu pensamento foi subitamente tomado por uma imagem de vinte anos atrás, que emergiu do fundo da memória: a irmã do vocalista dos “Gárgulas”, a banda que tive no final da adolescência. Eu, 16; ela, 15. Aos domingos, eu saía do Colégio Batista a pé, descia até a Floresta e pegava o 8001 até o Santa Inês para ensaiar. Numa mão, a guitarra Fender Telecaster, na outra, o amplificador Crate. Apesar de todo o improviso, a reunião de sete pessoas em torno de um projeto musical tinha a capacidade de ordenar a nossa libido e de direcioná-la a um objeto mais apropriado ao nosso estado. Ofuscado atrás das banalidades do rock nacional, o ideal de Pitágoras revivia em nossa reunião dominical. Relativamente ofuscada, ali, também, uma criatura de Deus, doce e bonita, imprimia cores leves a um ambiente suficientemente repleto de homens peludos: a irmã do vocalista, que, da porta da garagem de sua casa, transformada em estúdio, assistia a uma parte ou outra do ensaio, assentindo, ora com seu silêncio, ora com seu sorriso acanhado, com a fantasiada sensação do sucesso da banda de rock nacional formada majoritariamente por seus irmãos e seus primos.
Vinte anos depois, do nada, o rosto dela me apareceu como uma imagem sorrindo e me lançando indecifráveis pontos de interrogação. Terá hoje 36 anos, calculei. Se a vir na rua, provavelmente serei capaz de reconhecê-la pelo olhar. Fez faculdade? Trabalha em quê? Casou-se? Tem filhos? Engordou? Na ânsia por alguma qualquer informação, consegui encontrar um de seus irmãos no Facebook; mas não o outro, o tecladista da banda. Vi que me enganara em relação ao nome dela: chamava-se Isle – e não Isley, como ficara em minha memória. Mas não a encontrei em qualquer canto do Google, pois lá ela nunca esteve como ser pleno de potencialidades.
A explicação, mais tarde vim a compreender: o Google não a alcançou. Através de uma referência que seu irmão lhe fez em um trabalho acadêmico, descobri, com um atraso de dezenove anos, que aquela menina que acompanhava as partes mais barulhentas de nossos ensaios de domingo à tarde, na sua casa do bairro Santa Inês, foi-se embora deste mundo em 1998, aos dezoito anos de idade. Das rosas daquele tempo, quantas outras rosas terão morrido em botão?
Tomar conhecimento deste inexplicável evento somente agora, em 2017, depois de ter ficado vinte anos conservando sua imagem no fundo do subconsciente, atordoou-me ao ponto da incredulidade – e me deu uma intuição tão veraz da eternidade (“posse plena e simultânea de todos os momentos”, como disse Boécio) que nenhum fragmento de Parmênides jamais me proporcionara.
Como acabei de entrar em contato com esse dado irrevogável da realidade (de uma realidade que, apesar de tudo, me abarca e me transcende), cumpro o ritual descrito pelos psicólogos: antes de tudo, resigno-me à fase da negação. Levanto a cabeça e vejo o desajeitado Thompson batendo uma baqueta na outra, por quatro vezes, cumprindo ritualmente sua função de baterista que anuncia o início de cada passo do ensaio; e, nos primeiros acordes de uma música qualquer, a irmã do vocalista, comendo biscoitos recheados, de tudo ri timidamente. Ri-se do aparente absurdo de seu destino próximo?
Garantindo que os acordes da guitarra estão em ordem, levanto de novo a cabeça e vejo os dentões do vocalista que imita o Renato Russo, vejo o baixista improvisado (na verdade, um guitarrista deslocado para aquela função elementar), todos colaborando num esforço conjunto para cultivar a sensação coletiva de que a vida tinha, afinal de contas, um canal por onde fluir.
O sentido da cruz e da redenção, a cultura ainda não fora capaz, naquela época, de imprimir em nenhuma de nossas almas. Esse sentido, hoje, tenho-o mais ou menos claro e confortante. Mas não tenho, ainda, comigo, o pleno significado dessa vida interrompida aos dezoito anos.



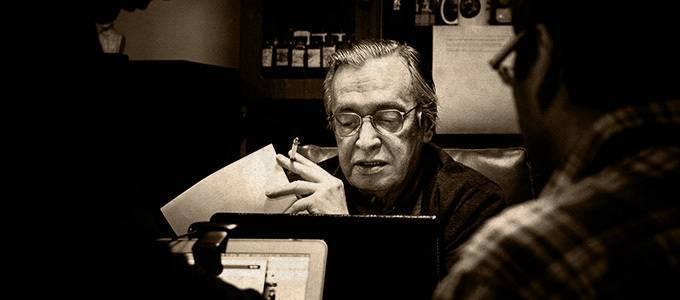

Respostas