Atlas Shrugged: minhas impressões
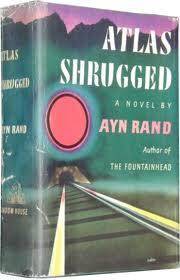
Terminei na semana passada a leitura de ‘Atlas Shrugged‘ (1957), de Ayn Rand. Eu possuía em casa uma edição antiga, de 1987, da Editora Expressão e Cultura, em tradução de Paulo Henriques Brito, que comprei em um sebo de Niterói, RJ. Provavelmente eu não conseguiria ler nos próximos dez anos o romance nessa edição medonha de mil páginas, de letras praticamente inacessíveis ao meu olho nu e míope. Um verdadeiro tijolo que ficava na estante como decoração, a espera de que um ânimo reforçado me permitisse iniciar-lhe a leitura. Quando por acaso vislumbrava a imensa lombada na estante, a me olhar, fazia troça dela, balançava os ombros e dizia, com uma falsa indiferença repleta de pesar: ‘Quem é John Galt?’

‘Quem é John Galt?’ é a pergunta que se fazem a si e aos outros os personagens dessa catástrofe anunciada. Segundo a Biblioteca do Congresso Americano, Atlas Shrugged é considerado, depois da Bíblia, o livro mais influente nos Estados Unidos. Mas nem isso me animava a enfrentá-lo. Porém, fez-se o Kindle; e do céu à terra todos viram que era bom. A novidade do dispositivo me animou a iniciar a leitura de ‘A revolta de Atlas’ (mudou-se o título, manteve-se o texto da tradução anterior). Entre momentos de leitura intensa e pausas estratégicas, demorei três meses para terminar as mil páginas, por assim dizer, da versão eletrônica. Foi o primeiro livro eletrônico que li na íntegra (a sensação, nova, de terminar um livro e não poder segurá-lo nas mãos orgulhosas, como quem segura uma presa dominada, deixou-me tão atordoado que mantive a edição de 1987 por perto por alguns dias, como que para assimilar o fato de tê-lo terminado em tamanho e em verdade).
Ayn Rand (Alisa Zinov’yevna Rosenbaum) nasceu em São Petersburgo, em 2 de fevereiro de 1905 e morreu em Nova Iorque, 6 de março de 1982; foi uma escritora e filósofa norte-americana de origem judaico-russa, que ganhou fama e discípulos por desenvolver uma filosofia que denominou objetivismo, marcada por fortes doses de individualismo empreendedor, de racionalismo ateu e de um amor-próprio levado às últimas consequências. O velho Aristóteles é o único filósofo com quem ela reconhece ter uma dívida intelectual (impressionaram-na precisamente a definição das leis da lógica e a teoria do conhecimento). Uma pequena amostra de suas ideias pode ser acessada neste vídeo (1 de 3), de uma entrevista concedida a Mike Wallace em 25.02.1959.
 Se você não leu e não tem a menor noção do que trata a mais conhecida narrativa de Ayn Rand, eis um resumo despretensioso da trama, sujeito a algumas falhas de memória ou de interpretação (advertência: se você não gosta que lhe contem detalhes de uma história antes que você mesmo a leia, recomendo que não continue a leitura — há no livro certos ‘mistérios’ que o tornam mais interessante): a história se passa nos Estados Unidos, em época imprecisa. John Galt era um funcionário de uma fábrica chamada Motores Século XX. Lá pelas tantas, os herdeiros do fundador da sociedade empresária, tomados pelas modas progressistas do momento, decidem delegar as decisões a respeito da produção e da administração dos recursos humanos à assembleia dos empregados. Como resultado dessa desastrosa delegação, surge a regra, votada democraticamente pelos empregados: aos mais necessitados, maiores privilégios; aos mais competentes, maiores responsabilidades. John Galt, um jovem de notável inteligência e grande coragem, deserta, por não aceitar submeter-se a regra tão iníqua — que justificava, por exemplo, a redução do salário de um competente empregado (porém solteiro e colecionador compulsivo de discos de vinis, hobby considerado supérfluo pela assembleia) e, por outro lado, do aumento de benefícios a um empregado incompetente (cuja filha, deficiente física, buscava uma vaga na universidade) e tantas outras medidas similares. Inconformado, John Galt decide mostrar a todos quem efetivamente são os maiores responsáveis pelo funcionamento da sociedade. Para isso, ele precisará ‘parar o mundo’. Como assim? Os maiores e mais competentes empresários começam a desaparecer, misteriosamente. Há aí o dedo de John Galt, que os convence, em segredo, a se refugiarem em um local em que suas virtudes serão reconhecidas por todos. Um local em que teriam vida, e vida em abundância. A par do desaparecimento de alguns homens notáveis, ocorria a costumeira ascensão de outros — por exemplo, de Hank Rearden, criador do revolucionário e bem-sucedido ‘metal Rearden’. Com semelhantes circunstâncias diante de si, uma corja de administradores públicos começa a baixar uma série de normas restritivas da concorrência ou de caráter simplesmente assistencialista, que terminam por privilegiar os irresponsáveis de toda sorte e por dissuadir os empreendedores interessados em produzir mais e mais. O resultado das medidas (de que a ‘Lei de Igualdade de Oportunidades’ é a compilação mais notável) é a acomodação preguiçosa e covarde da maioria da população trabalhadora e a geração do medo que acabam por travar por todos os lados a livre iniciativa. Os desaparecimentos prosseguiram e o ‘funcionamento’ ordinário da sociedade ficou cada vez mais prejudicado. Um bando de empregados incompetentes, outros resignados, chefiados por lobistas ou por simples ‘testas-de-ferro’ não foi capaz de manter a produção em níveis satisfatórios. O medo, a inveja, a indiferença medram e abundam. O caos começa a se instalar por todo o país. A cena que mais me impressionou em todo o romance foi a do acidente com uma das locomotivas da Taggart Transcontinental (capítulo VII da segunda parte). Magistralmente narrado pela autora, o acidente vitimou centenas de pessoas. Diversas circunstâncias levaram à sua ocorrência: todas elas previsíveis e previstas com antecedência; todas elas tiveram livre curso diante da inércia de alguns, do medo de agir e de se comprometer de outros e da incompetência pura e simples de todos. A modo como a narrativa segue nos deixa verdadeiramente angustiados. Houve muitas e diversas oportunidades de salvação. Todos sabiam o que era necessário fazer para evitar a terrível fatalidade. Ninguém, porém, ousou decidir algo para impedir a catástrofe. O direcionamento daquela locomotiva para um túnel, naquelas circunstâncias, era fatal. Porém, outras coisas estavam em jogo: políticas públicas genéricas, empurra-empurra de responsabilidades, pensamento mágico, irresponsabilidade de alguns e, de resto, de todos. Quem foram as vítimas do acidente? Como em tudo na vida, alguns verdadeiramente inocentes foram sacrificados no altar da incompetência geral. Porém, a interessante sacada de Ayn Rand foi a descrição do estado e da filosofia da vida de alguns dos passageiros irrevogavelmente mortos por asfixia dentro do túnel. Como se estivéssemos com um raio-x de almas nas mãos e passássemos com ela por cada cabine inspecionando cada cadáver insepulto, encontramos um professor de sociologia que ensinava que a capacidade individual é irrelevante, que o esforço individual é fútil, que a consciência individual é um luxo supérfluo, um jornalista que escrevia que era correto e moralmente justificável usar a coação ‘por uma boa causa’, uma professora idosa que passara a vida ensinando sucessivas turmas de crianças indefesas a serem covardes, ensinando-lhes que a vontade da maioria é o único padrão do que é bom e do que é mau, que a maioria pode fazer tudo o que bem entender, um editor de jornal que acreditava que o homem é mau por natureza e incapaz de ser livre, um empresário que adquirira uma mina com auxílio de um empréstimo do governo, concedido por uma lei manifestamente injusta, um trabalhador que achava que tinha ‘direito’ a um emprego independentemente da vontade do empregador, uma conferencista que achava que, como consumidora, tinha ‘direito’ a transporte, independentemente da vontade da companhia ferroviária, um professor de economia que defendia a abolição da propriedade privada, argumentando que a inteligência não desempenha nenhum papel na produção industrial, que a mente do homem é condicionada por instrumentos materiais, que qualquer um pode administrar uma fábrica ou uma ferrovia, bastando para tal apossar-se das máquinas, uma mãe cujo marido trabalhava para implementar decretos injustos (mas que porém o defendia sob a alegação de que ‘apenas os ricos são prejudicados’), um neurótico desprezível que escrevia peças de teatro idiotas cuja mensagem social eram pequenas obscenidades covardes que davam a entender que todos os empresários eram canalhas, uma dona de cada que achava que tinha o direito de eleger políticos sobre os quais ela nada sabia para cargos que lhes permitiam controlar indústrias gigantescas cuja existência ela ignorava, um advogado que certa vez dissera: ‘Eu dou um jeito de me adaptar a qualquer sistema político’, um professor de filosofia que ensinava que não existia inteligência, nem realidade, nem princípios, nem direitos, nem moral, nem absolutos; que ensinava que não sabemos nada, que jamais podemos ter certeza de nada, que temos de agir conforme as exigências do momento. Se você não entende — como assim? — de que maneira ‘as ideias têm consequências’, eis aí, em um desenho muito didático, uma aula efetivamente instrutiva. Além disso, que magnífica acusação de cumplicidade! Com não lembrar da antológica cena do primeiro Tropa de Elite?
Se você não leu e não tem a menor noção do que trata a mais conhecida narrativa de Ayn Rand, eis um resumo despretensioso da trama, sujeito a algumas falhas de memória ou de interpretação (advertência: se você não gosta que lhe contem detalhes de uma história antes que você mesmo a leia, recomendo que não continue a leitura — há no livro certos ‘mistérios’ que o tornam mais interessante): a história se passa nos Estados Unidos, em época imprecisa. John Galt era um funcionário de uma fábrica chamada Motores Século XX. Lá pelas tantas, os herdeiros do fundador da sociedade empresária, tomados pelas modas progressistas do momento, decidem delegar as decisões a respeito da produção e da administração dos recursos humanos à assembleia dos empregados. Como resultado dessa desastrosa delegação, surge a regra, votada democraticamente pelos empregados: aos mais necessitados, maiores privilégios; aos mais competentes, maiores responsabilidades. John Galt, um jovem de notável inteligência e grande coragem, deserta, por não aceitar submeter-se a regra tão iníqua — que justificava, por exemplo, a redução do salário de um competente empregado (porém solteiro e colecionador compulsivo de discos de vinis, hobby considerado supérfluo pela assembleia) e, por outro lado, do aumento de benefícios a um empregado incompetente (cuja filha, deficiente física, buscava uma vaga na universidade) e tantas outras medidas similares. Inconformado, John Galt decide mostrar a todos quem efetivamente são os maiores responsáveis pelo funcionamento da sociedade. Para isso, ele precisará ‘parar o mundo’. Como assim? Os maiores e mais competentes empresários começam a desaparecer, misteriosamente. Há aí o dedo de John Galt, que os convence, em segredo, a se refugiarem em um local em que suas virtudes serão reconhecidas por todos. Um local em que teriam vida, e vida em abundância. A par do desaparecimento de alguns homens notáveis, ocorria a costumeira ascensão de outros — por exemplo, de Hank Rearden, criador do revolucionário e bem-sucedido ‘metal Rearden’. Com semelhantes circunstâncias diante de si, uma corja de administradores públicos começa a baixar uma série de normas restritivas da concorrência ou de caráter simplesmente assistencialista, que terminam por privilegiar os irresponsáveis de toda sorte e por dissuadir os empreendedores interessados em produzir mais e mais. O resultado das medidas (de que a ‘Lei de Igualdade de Oportunidades’ é a compilação mais notável) é a acomodação preguiçosa e covarde da maioria da população trabalhadora e a geração do medo que acabam por travar por todos os lados a livre iniciativa. Os desaparecimentos prosseguiram e o ‘funcionamento’ ordinário da sociedade ficou cada vez mais prejudicado. Um bando de empregados incompetentes, outros resignados, chefiados por lobistas ou por simples ‘testas-de-ferro’ não foi capaz de manter a produção em níveis satisfatórios. O medo, a inveja, a indiferença medram e abundam. O caos começa a se instalar por todo o país. A cena que mais me impressionou em todo o romance foi a do acidente com uma das locomotivas da Taggart Transcontinental (capítulo VII da segunda parte). Magistralmente narrado pela autora, o acidente vitimou centenas de pessoas. Diversas circunstâncias levaram à sua ocorrência: todas elas previsíveis e previstas com antecedência; todas elas tiveram livre curso diante da inércia de alguns, do medo de agir e de se comprometer de outros e da incompetência pura e simples de todos. A modo como a narrativa segue nos deixa verdadeiramente angustiados. Houve muitas e diversas oportunidades de salvação. Todos sabiam o que era necessário fazer para evitar a terrível fatalidade. Ninguém, porém, ousou decidir algo para impedir a catástrofe. O direcionamento daquela locomotiva para um túnel, naquelas circunstâncias, era fatal. Porém, outras coisas estavam em jogo: políticas públicas genéricas, empurra-empurra de responsabilidades, pensamento mágico, irresponsabilidade de alguns e, de resto, de todos. Quem foram as vítimas do acidente? Como em tudo na vida, alguns verdadeiramente inocentes foram sacrificados no altar da incompetência geral. Porém, a interessante sacada de Ayn Rand foi a descrição do estado e da filosofia da vida de alguns dos passageiros irrevogavelmente mortos por asfixia dentro do túnel. Como se estivéssemos com um raio-x de almas nas mãos e passássemos com ela por cada cabine inspecionando cada cadáver insepulto, encontramos um professor de sociologia que ensinava que a capacidade individual é irrelevante, que o esforço individual é fútil, que a consciência individual é um luxo supérfluo, um jornalista que escrevia que era correto e moralmente justificável usar a coação ‘por uma boa causa’, uma professora idosa que passara a vida ensinando sucessivas turmas de crianças indefesas a serem covardes, ensinando-lhes que a vontade da maioria é o único padrão do que é bom e do que é mau, que a maioria pode fazer tudo o que bem entender, um editor de jornal que acreditava que o homem é mau por natureza e incapaz de ser livre, um empresário que adquirira uma mina com auxílio de um empréstimo do governo, concedido por uma lei manifestamente injusta, um trabalhador que achava que tinha ‘direito’ a um emprego independentemente da vontade do empregador, uma conferencista que achava que, como consumidora, tinha ‘direito’ a transporte, independentemente da vontade da companhia ferroviária, um professor de economia que defendia a abolição da propriedade privada, argumentando que a inteligência não desempenha nenhum papel na produção industrial, que a mente do homem é condicionada por instrumentos materiais, que qualquer um pode administrar uma fábrica ou uma ferrovia, bastando para tal apossar-se das máquinas, uma mãe cujo marido trabalhava para implementar decretos injustos (mas que porém o defendia sob a alegação de que ‘apenas os ricos são prejudicados’), um neurótico desprezível que escrevia peças de teatro idiotas cuja mensagem social eram pequenas obscenidades covardes que davam a entender que todos os empresários eram canalhas, uma dona de cada que achava que tinha o direito de eleger políticos sobre os quais ela nada sabia para cargos que lhes permitiam controlar indústrias gigantescas cuja existência ela ignorava, um advogado que certa vez dissera: ‘Eu dou um jeito de me adaptar a qualquer sistema político’, um professor de filosofia que ensinava que não existia inteligência, nem realidade, nem princípios, nem direitos, nem moral, nem absolutos; que ensinava que não sabemos nada, que jamais podemos ter certeza de nada, que temos de agir conforme as exigências do momento. Se você não entende — como assim? — de que maneira ‘as ideias têm consequências’, eis aí, em um desenho muito didático, uma aula efetivamente instrutiva. Além disso, que magnífica acusação de cumplicidade! Com não lembrar da antológica cena do primeiro Tropa de Elite?
 O mundo, enfim, tornou-se um lugar insalubre que ‘não funciona’. Diferentemente, refugiados em uma sociedade recém-fundada nas montanhas do Colorado, protegidos do resto do mundo por uma ilusão de ótica arquitetada por John Galt seu fundador, as maiores cabeças dos Estados Unidos iniciavam uma convivência tanto quanto possível pacífica e virtuosa — enquanto Galt e seus parceiros agiam em busca de novos quadros. Eles efetivamente eram capazes de ‘fazer parar o mundo’, porque eles são filhos de Atlas, um dos titãs da mitologia grega responsável por sustentar os céus nas costas. O que acontece quando Atlas encolhe ou balança os ombros em sinal de indiferença?
O mundo, enfim, tornou-se um lugar insalubre que ‘não funciona’. Diferentemente, refugiados em uma sociedade recém-fundada nas montanhas do Colorado, protegidos do resto do mundo por uma ilusão de ótica arquitetada por John Galt seu fundador, as maiores cabeças dos Estados Unidos iniciavam uma convivência tanto quanto possível pacífica e virtuosa — enquanto Galt e seus parceiros agiam em busca de novos quadros. Eles efetivamente eram capazes de ‘fazer parar o mundo’, porque eles são filhos de Atlas, um dos titãs da mitologia grega responsável por sustentar os céus nas costas. O que acontece quando Atlas encolhe ou balança os ombros em sinal de indiferença?
 O mundo cai… E o mundo de Atlas Shrugged efetivamente caiu na desgraça e na anomia. No final, depois dos desdobramentos que preenchem a história, John Galt chega a ser torturado pelos dirigentes da nação, que entendiam como seu dever ‘dizer a todos o que fazer’ (excelente exemplo de manifestação de uma das ‘doenças da linguagem’, segundo Eugen Rosenstock-Huessy — quando à parcela da população ninguém diz o que devem fazer). Ele se recusa a contribuir, naturalmente. John Galt tem um plano maior; mas para implementá-lo é necessário que todos ‘saiam da frente’. É isso o que ele espera. Não aceita ser cúmplice das ‘cachorradas’ que vigiam até então. A queda do mundo é resultado da ‘greve’ promovida pelos melhores; ocorre, como uma profecia, pela simples retirada das inteligências empreendedoras de seu cenário original. Quando o mundo finalmente desaba, o caminho está aberto para um novo recomeço.
O mundo cai… E o mundo de Atlas Shrugged efetivamente caiu na desgraça e na anomia. No final, depois dos desdobramentos que preenchem a história, John Galt chega a ser torturado pelos dirigentes da nação, que entendiam como seu dever ‘dizer a todos o que fazer’ (excelente exemplo de manifestação de uma das ‘doenças da linguagem’, segundo Eugen Rosenstock-Huessy — quando à parcela da população ninguém diz o que devem fazer). Ele se recusa a contribuir, naturalmente. John Galt tem um plano maior; mas para implementá-lo é necessário que todos ‘saiam da frente’. É isso o que ele espera. Não aceita ser cúmplice das ‘cachorradas’ que vigiam até então. A queda do mundo é resultado da ‘greve’ promovida pelos melhores; ocorre, como uma profecia, pela simples retirada das inteligências empreendedoras de seu cenário original. Quando o mundo finalmente desaba, o caminho está aberto para um novo recomeço.
O que pensar disso tudo? Meus sentimentos em relação ao livro são ambíguos. Há em Atlas Shrugged intuições muito interessantes sobre o funcionamento da sociedade, não só da sociedade da década de 50, mas da sociedade deste nosso século XXI. Há muito de virtuoso em Dagny Taggart, em John Galt, em Francisco D’Anconia, em Hank Rearden e em Ragnar Danneskjöld. São personagens que têm ‘presença’; são competentes, são confiáveis. Por outro lado, James Taggart, Lillian Rearden, Floyd Ferris, Wesley Mouch, Mr. Thompson e Robert Stadler estão entre os seres mais desprezíveis deste mundo e de qualquer outro que venha a ser inventado; e foram responsáveis, sem dúvida, pelas cenas de maior potencial catártico de todo a narrativa. São todos, porém, personagens muito ‘chapados’: os primeiros foram criados acima de qualquer maldade; os segundos, abaixo da possibilidade de qualquer bondade. Não são personagens muito verossímeis. Para os fins pretendidos pela autora, porém, eles representam bem arquétipos muito significativos das forças que de algum modo ainda estão sobre o tabuleiro de nosso cotidiano político e empresarial. John Galt e seus afins encarnam virtudes heróicas; o desprezível Wesley Mouch e sua trupe encarnam tudo o que há de mais odioso nos gabinetes em que se discutem as políticas públicas que nos afetam a todos.
Apesar de julgar Atlas Shrugged uma leitura essencial, em alguns casos de natureza terapêutica, não acho que ele seja um livro saudável para todo e qualquer tipo de pessoa. Narrativa escrita por uma ateia, pode consolidar em certos temperamentos o notável escotoma de que padecia Ayn Rand: a visão de um mundo sem Deus, sem Providência, sem amor ao próximo. É verdade que há no romance uma forte noção de responsabilidade individual (uma das grandes virtudes da obra, a meu ver), mas há junto dela um ‘dane-se o mundo’ em benefício dos ‘meus objetivos’ que, se mal-compreendido, pode ser origem de alguns outros tantos males (sem dúvida menores em magnitude e em efeitos do que os males denunciados pela autora). Ainda sou, porém, incapaz de desenvolver com maior desenvoltura essa impressão que tive. É verdade que na nossa sociedade há um espaço vazio (e quanto espaço há!) pedindo para ser ocupado por John Galt, Dagny Taggart e Hank Rearden aos montes e em profusão. Gosto do empreendedorismo desses personagens e sinto falta, na nossa República da Banânia, de pessoas corajosas e responsáveis como eles (confirmo isso a cada vez que vejo o ‘empresariado’ que se aglomera em torno dos caciques do DEM e do PSDB, nossos expoentes da centro-direita e da esquerda light, respectivamente). Sem dúvida os heróis de Atlas Shrugged são pessoas necessárias, muito necessárias. Mas eles representam, e representam apenas, determinadas virtudes — e não o suprassumo da ética, como quer Ayn Rand.
Há algo mais, portanto, a dizer sobre o ‘funcionamento’ de uma sociedade. O mundo se sustenta nos ombros dos gênios da técnica e da indústria? Sob certo ponto de vista, sim. Mas apenas sob certo ponto de vista. Olhando de cima, com maior perspectiva, os ‘atlas’ sustentadores do mundo são os santos de Deus, recolhidos em mosteiros e em casas de família em todos os continentes. Eles não encolhem ou balançam os ombros para o mundo; eles não fazem questão de mostrar quem está com as chaves desta geringonça. Aceitam o desprezo, a humilhação e em alguns casos até o martírio, pois o seu Reino não é deste mundo. Só quem não é ‘deste mundo’ pode sustentá-lo (noção que, se não está propriamente em Aristóteles pode contudo ser extraída de sua Física).
Ayn Rand teve uma fantástica intuição e foi muito feliz em simbolizá-la em Atlas Shrugged, seu quarto e último romance. A história das ideias do século XX seria mais pobre sem ela. O mundo de Ayn Rand, apesar disso, é apenas parte do mundo real — embora seja uma parte importante, sem dúvida. No quebra-cabeças aynrandiano faltam algumas peças essenciais — foi essa a sensação com que fiquei depois das mil páginas desse magnífico romance filosófico.

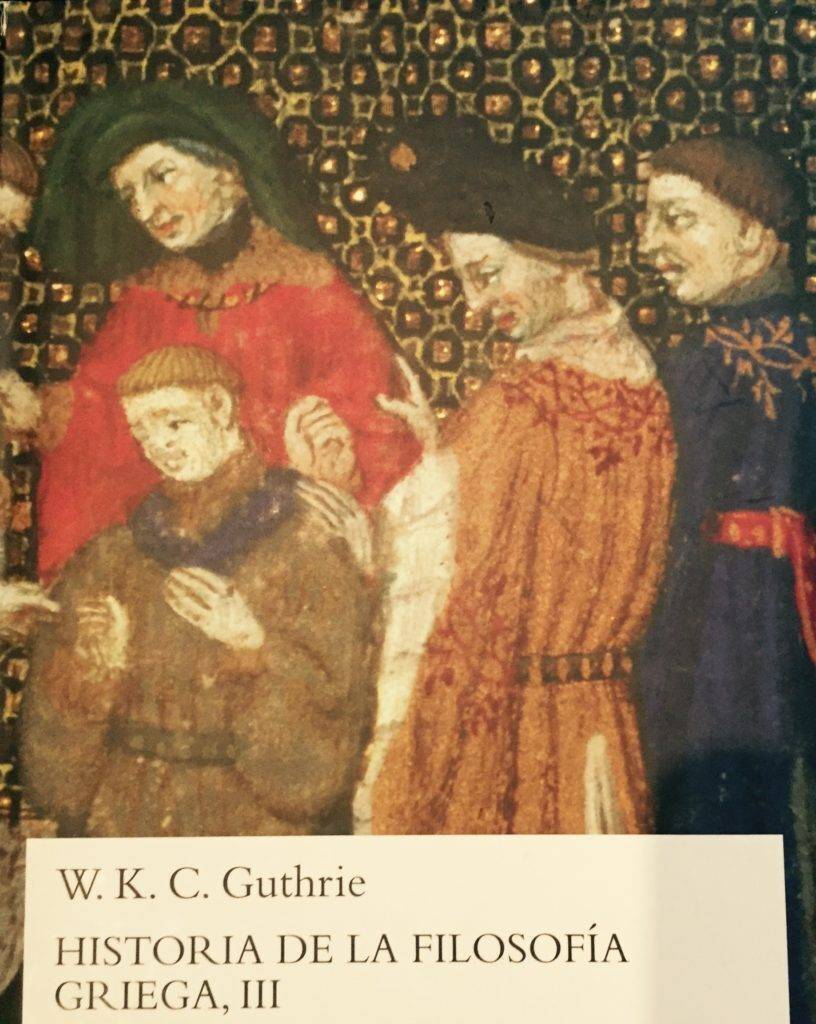


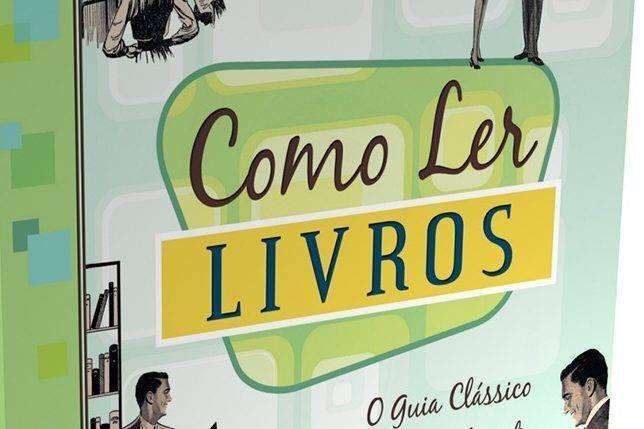
Respostas